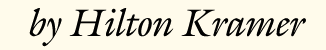Tradução: Heitor De Paola
É uma pena que ninguém ainda tenha escrito uma história da mentalidade progressiva nos Estados Unidos. Estamos distantes o suficiente do auge do progressismo para termos uma certa perspectiva sobre suas formas características de ver o mundo, mas ainda estamos próximos o suficiente de seu declínio — ou de sua transmutação em algo mais — para termos algumas memórias vívidas, em primeira mão, das peculiares deformações intelectuais que ele impôs à nossa vida política e cultural por cerca de um terço do século atual. Áreas inteiras da vida americana — a mídia e o mundo editorial, a indústria do entretenimento, a burocracia federal, a educação, a academia e até mesmo as igrejas — não podem ser totalmente compreendidas sem uma compreensão sólida do que a perspectiva progressista nos legou nos anos de sua ascensão, que, pelos meus cálculos, se estendem do final da década de 1920 a meados da década de 1960.
As histórias da esquerda política americana nesse período, como as que nos foram apresentadas, não satisfazem realmente a necessidade de um estudo da mentalidade progressista, que, embora ancorada na ideologia política de esquerda, sempre foi reflexo de algo mais do que um conjunto de posições políticas. O progressismo de que falo era um ethos, uma mentalidade, uma fé secular que se estendia por todos os aspectos da vida e do pensamento. Era, portanto, tanto um código de sentimento quanto um modo de pensar. Suas lealdades determinavam tudo, desde o gosto literário e a escolha de cônjuges até a maneira como as crianças eram educadas e os eventos políticos respondiam. No auge de sua influência, o progressismo tinha uma pelo menos uma resposta — para cada pergunta, razão pela qual não pôde ser desalojado de sua posição de autoridade na vida de seus acólitos por eventos políticos específicos, por mais devastadores que fossem, mas exigiu, para sua derrocada, o surgimento de um ethos ainda mais radical, abrangente e convincente em suas prescrições para a vida do que o sistema de crenças que suplantou. É nesse sentido que se pode dizer que a contracultura do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, com seu apelo por uma emancipação pessoal mais fundamental, devorou os resquícios de um progressismo outrora reinante e impulsionou sua progênie para um radicalismo de um tipo muito diferente.
Ao falar da mentalidade progressista nos Estados Unidos, devemos distinguir, é claro, entre as ideias e atitudes propagadas no início do século pelos movimentos reformistas associados a Theodore Roosevelt, Robert M. La Follette e William Jennings Bryan, e o tipo muito diferente de progressismo que passou a ser identificado, em maior ou menor grau, com uma fidelidade à camaradagem stalinista. Usada neste último sentido, a palavra "progressista", outrora tão comum na linguagem política, não é mais muito ouvida nas discussões sobre a esquerda radical neste país. Parece ter se tornado uma vítima da Guerra Fria. Conservadores, pelo menos aqueles com idade suficiente para se familiarizarem com o termo na juventude, rejeitam a própria noção de progressismo como um eufemismo para o próprio stalinismo — o que, de fato, ainda era quando eu estava na escola, no final dos anos 1940 e início dos anos 1950. Muitos liberais, especialmente aqueles com idade suficiente para terem vivenciado as duplicidades dos comunistas em primeira mão, evitam a palavra pelo mesmo motivo. No entanto, mesmo entre pessoas da extrema esquerda, progressista é um termo que perdeu o brilho. Parece datado e um pouco desgastado — um retrocesso, talvez, a uma era mais receptiva a causas políticas de inspiração marxista do que a nossa.
Progressista é, de qualquer forma, um termo antiquado demais para servir aos propósitos atuais da esquerda radical, que tende mais a explorar questões de raça, sexo, meio ambiente, bem-estar social e multiculturalismo do que a defender noções marxista-leninistas de revolução. Revolução de algum tipo sempre foi, é claro, o subtexto do progressismo americano de orientação soviética, mas era um subtexto que não ousava pronunciar seu nome em público com muita veemência, para que os liberais mais moderados, dos quais os progressistas dependiam para obter aliados e acesso, não se lembrassem do que realmente era a política progressista.
Mesmo assim, nenhuma outra palavra servirá para descrever o tipo de mentalidade liberal de esquerda que outrora desempenhou um papel tão importante na formação da vida cultural americana e do pensamento social em que se baseava. Em seu auge, o progressismo sempre ocupou um lugar muito maior na vida cultural americana do que o próprio comunismo. Pois os progressistas, graças a seus aliados e patronos liberais, frequentemente tinham fácil acesso a ambientes onde comunistas conhecidos não eram inteiramente bem-vindos. Embora todos os comunistas fossem, pelo menos em suas declarações públicas, progressistas, nem todos os progressistas eram comunistas — ou seja, estavam sob a disciplina do Partido Comunista. Pode-se, portanto, dizer que o progressismo representou os leigos do movimento comunista na era stalinista e, como acontece com qualquer fé, o estilo de obediência a artigos fundamentais de crença naturalmente variava bastante dentro de suas fileiras.
Os progressistas de Hollywood, por exemplo, diferiam marcadamente de seus colegas do movimento trabalhista industrial. Progressistas confortavelmente situados na The New Yorker, conformando-se ao ethos de sua própria subcultura, tendiam a ser mais despreocupados em seu radicalismo do que, digamos, os escritores da The Nation. O mesmo acontecia com seus respectivos leitores progressistas. E assim foi. Os progressistas de Harvard eram frequentemente mais esnobes do que os do City College, enquanto Berkeley produziu uma comunidade de progressistas que diferia de ambos.
No entanto, apesar dessas diferenças de estilo, classe e disposição, o que tornava esses progressistas uma força identificável na vida cultural americana eram precisamente os artigos de crença que compartilhavam, e o mais importante deles era uma visão da vida americana — uma visão da própria vida — que era em grande parte stalinista em sua origem. Pouco importava o que de fato acontecia na União Soviética na época de Stalin. Sobre isso, em sua maioria, progressistas de todos os tipos eram maravilhosamente hábeis em se manter em um estado de descrença altamente adaptável. O que os preocupava profundamente era a vida nos Estados Unidos, que os progressistas viam quase inteiramente em termos codificados pela linha do Partido Comunista à medida que ela evoluía no curso de suas muitas modificações, permutações e reversões completas para atender às necessidades do poder soviético. Em relação a uma ampla gama de eventos históricos e figuras públicas — do caso Sacco-Vanzetti e a Guerra Civil Espanhola à condenação de Alger Hiss e aos Dez de Hollywood —, os progressistas adotaram uma iconografia e uma demonologia que permaneceram imunes à dúvida crítica ou à evidência documental até os dias atuais. É por isso que as revelações recentemente emanadas dos arquivos do KGB na Rússia não tiveram impacto perceptível no que resta da mentalidade progressista. Os fatos históricos verificáveis há muito deixaram de ser relevantes para o ato de fé dos progressistas.
Fui lembrado de tudo isso mais uma vez pelo novo livro que Nora Sayre escreveu sobre si mesma, seus pais, seus amigos, suas respectivas lealdades políticas e seu próprio apego impenitente aos velhos sentimentalismos progressistas. 1 Intitulado, de forma um tanto enganosa, Convicções Anteriores: Uma Jornada Através dos Anos 1950 , o livro aspira a iluminar um pedaço muito maior da história do que a década desprezada em que a própria Sayre atingiu a maioridade e para a qual ela agora olha com tanto desgosto. Pois este é um livro que elogia os anos 20, nos dá uma espécie de versão caricata da Frente Popular dos anos 30, castiga os anos 50, sentimentaliza os anos 60 e nos atualiza sobre o que restou dos chavões progressistas até bem dentro dos anos 80 e 90.
Sobre os anos 20, Sayre escreve com um espírito de piedade filial despreocupada. Os anos 20 foram a década glamourosa que moldou a vida de seus pais e, portanto, na visão de Sayre, estabeleceu um padrão de como a vida deveria ser vivida que nunca mais foi alcançado. Seu pai, Joel Sayre, havia trabalhado no antigo New York Herald-Tribune, construiu uma reputação mediana no The New Yorker e, como Nora Sayre escreve, "passou cerca de cinco anos em Hollywood, empregado em mais de uma dúzia de projetos cinematográficos". Mais tarde, ele escreveu para a televisão. Sua mãe, Gertrude Lynahan, também era jornalista. Sua carreira, diz-se, "foi estimulada por HL Mencken". Nos anos 20, ela trabalhou no The New York World numa época em que Joseph Mitchell, mais tarde colega de seu marido no The New Yorker, era um garoto-propaganda lá. John O'Hara era padrinho de Nora Sayre. Outros membros do círculo de seus pais incluíam Nunnally Johnson, James Thurber, James M. Cain, St. Claire McKelway, SJ Perelman, Dorothy Parker e Edmund Wilson, este último um vizinho dos Sayres no Upper East Side de Manhattan quando Nora era criança — uma das crianças, como ela escreve, "que passava os biscoitos e queijo e enchia as bandejas de gelo" nos coquetéis de seus pais e "se sentia sem graça em comparação aos nossos mais velhos".
Quando me lembro dos amigos dos meus pais [ela escreve], imagino-os dentro de casa, em salas de estar, rindo, comendo nozes salgadas e bebendo uísque, conversando animadamente — com um grupo em vez de apenas uma pessoa. O cenário mudava de Nova York para Beverly Hills e Cape Cod, ocasionalmente para Connecticut. E um ou dois convidados podiam passar a noite, talvez em sofás: na manhã seguinte, haveria a longa ida silenciosa ao banheiro, o café da manhã sem palavras e, em seguida, algumas piadas sobre ressacas. Mas nenhum remorso perceptível.
Numa demonstração de consciência progressista, Sayre expressa alguma preocupação de que "pode parecer que me limitei a uma elite" ao escrever Convicções Anteriores , mas ela se apressa em acrescentar que "a maioria dos escritores dos anos 20 e os radicais dos anos 30" — em outras palavras, as figuras em discussão neste livro — "fizeram seu próprio caminho — por meio de seu trabalho". Em seu trabalho, seja para a imprensa comercial em Nova York ou para os estúdios de Hollywood, Sayre acredita que esses modelos de virtude progressista desprezavam o comercialismo, mas seu próprio relato de suas carreiras não sustenta tal afirmação. No caso de seu pai, por exemplo, ela deixa perfeitamente claro que ele procurou trabalho em Hollywood para atender às necessidades de sua família. Sua esposa havia sofrido um colapso irreversível e precisava de cuidados. Além disso, ele queria que sua filha frequentasse o Radcliffe College. Ambos exigiam mais dinheiro do que Joel Sayre poderia ganhar na The New Yorker. Acho que ele se comportou admiravelmente ao atender às necessidades de seus entes queridos, mas por que alegar que essa adoção deliberada do comercialismo foi exatamente o oposto do que Joel Sayre exigia de si mesmo? Bem, porque o comercialismo representa uma queda em descrédito no léxico progressista e, portanto, deve ser negado mesmo quando o motivo para isso é facilmente explicável.
É em detalhes reveladores desse tipo — e eles se tornam mais flagrantes e abundantes quando Nora Sayre se volta para "os radicais dos anos 30" — que chegamos a entender a peculiar variedade de progressismo que permeia Convicções Anteriores , que sua autora caracteriza como "um livro de memórias de mentalidades" e "um livro de ruminações". Para ela, é um progressismo de nostalgia — um progressismo composto quase exclusivamente de boas lembranças e ilusões acalentadas de outras pessoas e sua própria inveja incontida por uma época e um meio em que uma visão liberal de esquerda límpida sobre política e um estilo elegante na arte e na vida se uniam em alegre oposição ao que de outra forma era visto como uma sociedade ignorante e reacionária. Em outras palavras, o menckenismo se adaptou às necessidades do jornalismo médio e do chique radical.
A inveja que Sayre ainda nutre por essa raça feliz de rebeldes debonairs confere a tudo o que escreve um distinto ar de atraso, uma sensação de que ela e sua geração chegaram à cena depois que a festa acabou e apenas os escombros – as ressacas, as recriminações, as negações de transgressões, os colapsos – permaneceram como lembranças de tempos melhores. Sentindo-se despossuída desses tempos melhores, que Sayre identifica exclusivamente com seus pais e seu círculo, ela certamente entende que nasceu tarde demais para participar da experiência deles, mas parece, ainda assim, ter adotado suas atitudes características – atitudes que se fixaram nas décadas de 1920 e 1930 – como suas. Não surpreendentemente, ela logo descobriu que essas atitudes eram lamentavelmente inaplicáveis à vida nos anos 1950 e, como consequência, condena amargamente os anos 1950 como "uma época ruim para ser muito jovem, uma época ruim para entrar nos primeiros capítulos da vida, ruim para a curiosidade ou o impulso de explorar".
Parece nunca ter lhe ocorrido — mesmo agora, cerca de quarenta anos depois — que outros, especialmente aqueles que não nasceram nem das suas vantagens nem das suas decepções, pudessem olhar para os anos 1950 com sentimentos muito diferentes, pudessem de fato ter motivos para olhar para os anos 1950 como tempos melhores do que qualquer outro que tenhamos visto desde então. Mas, para alguns de nós, que éramos jovens nos anos 1950, o mundo provinciano em que Sayre nasceu — a New Yorker de Harold Ross e a Hollywood dos grandes estúdios — não representava, afinal, o ápice da realização humana. Aliás, não representava o ápice da realização jornalística ou cinematográfica. Líamos a The New Yorker pelas charges, pelas críticas de Edmund Wilson e Louise Bogan e por colaboradores externos ocasionais como Rebecca West, W. H. Auden e V. S. Pritchett. Íamos aos filmes de Hollywood para nos divertir, tal como fazíamos quando éramos crianças, não para arte ou edificação, e íamos vê-los com muito menos frequência depois de os filmes estrangeiros — filmes para adultos, como passei a considerá-los — estarem prontamente disponíveis para nós. Nas artes, os críticos cujos escritos mais significaram para nós — Clement Greenberg, B. H. Haggin, Virgil Thomson, Edwin Denby, Eric Bentley, Harold Clurman, Manny Farber — nunca apareceram na The New Yorker , e a maioria dos que o fizeram era mais conhecida pelas suas piadas do que pela sua sagacidade crítica. Se fizemos concessões a um escritor como Dwight Macdonald, o que naquela época fazíamos, foi em grande parte porque ele tinha construído a sua reputação na Partisan Review , e mesmo nos anos cinquenta os seus escritos mais audaciosos continuaram a ser publicados pela Partisan ou pela Commentary , não pela The New Yorker .
Para uma progressista sentimental como Nora Sayre, no entanto, o meio intelectual representado pela Partisan Review , Commentary , Encounter e um punhado de periódicos literários trimestrais continua sendo território inimigo, mesmo em retrospecto. Por um lado, era muito intelectual em seus gostos; suas visões da cultura popular eram muito mais críticas do que as dos colaboradores medianos da The New Yorker. Por outro, defendia o tipo errado de política; era anticomunista. Acima de tudo, era implacável em expor as falácias da mente progressista, não apenas em seus sentimentos políticos, mas também por suas devoções literárias e culturais. Nos anos 1950, escreve Sayre em Previous Convictions, "os amigos de sua família... achavam que os anticomunistas da Guerra Fria eram extremamente estúpidos", e ao longo dos últimos quarenta anos essa postura anticomunista — em muitos aspectos, o último refúgio da ortodoxia progressista — evoluiu na mente de Sayre para um absoluto moral. Isso fez com que seus livros anteriores — Sixties Going On Seventies (1973), uma coletânea de artigos jornalísticos sobre o movimento anti-Guerra do Vietnã e a contracultura, e Running Time: Films of the Cold War (1982), uma tentativa de retratar a história anticomunista de Hollywood — fossem pouco mais do que caricaturas progressistas de seus respectivos gêneros. Exceto em um aspecto — o comovente relato de Sayre sobre a vida de seu pai —, o mesmo imperativo moral faz de Previous Convictions um repositório de todos os mitos progressistas mais desacreditados que se acumularam sobre as décadas de 1930 e 1950. Na "jornada" progressista de Nora Sayre pelos anos 1950, a Partisan Review é vista como tendo se vendido ao conformismo americano devido à sua posição anticomunista na Guerra Fria, Alger Hiss é considerado culpado de nada mais do que agir como um liberal do New Deal, e os verdadeiros santos e mártires políticos da década são veteranos stalinistas como Donald Ogden Stewart e sua esposa, Ella Winter, viúva de Lincoln Steffens, vivendo em confortável exílio político em Londres, e os Dez de Hollywood, alguns dos quais ainda estavam sob a disciplina do Partido Comunista. É nesses detalhes que o progressismo da nostalgia degenera em pura fantasia e negação.
Às vezes, é claro, é difícil saber se Sayre é tão completamente ignorante sobre algumas das figuras que admira ou se é apenas — como dizer? — hipócrita. Malcolm Cowley, por exemplo, é uma figura que Sayre admira muito, e há de fato algo a admirar nos esforços puramente literários de Cowley. No entanto, em Convicções Anteriores , Sayre elogia Cowley, entre todas as coisas, por sua política, que nos anos 1930 era em grande parte stalinista partidária. Ela cita duas longas cartas escritas a Cowley por James Thurber nos anos 1930, nas quais este último, como escreve Sayre, “acusava os comunistas de tentar 'vestir o artista com um uniforme tão parecido com o uniforme do condutor do metrô que ninguém seria capaz de notar a diferença', e de um 'desejo de regimentar e disciplinar a arte'”. De forma premonitória, Thurber chegou a expressar o temor de que “os comunistas [estavam] contribuindo para 'a crescente ameaça do fascismo'”.
No entanto, nunca ocorreu a Sayre se perguntar por que Thurber estaria escrevendo tais coisas para Cowley naquele momento específico da história se, de fato, Cowley fosse tão independente em sua política quanto ela tolamente afirma que ele era. Sem dúvida, teria sido uma violação da piedade progressista da parte de Sayre lembrar seus leitores de que até mesmo Edmund Wilson — não o típico reacionário anticomunista, como até Sayre admitiria — foi levado a escrever o seguinte para Cowley, então ainda editor literário de uma New Republic muito progressista , em outubro de 1938:
O que, em nome de Deus, aconteceu com você? Disseram-me há algum tempo que você estava circulando uma carta pedindo apoio ao último lote de julgamentos de Moscou — embora tivesse acabado de publicar artigos nos quais, pelo que pude perceber, tentava expressar certo ceticismo. Não suponho que você seja membro do PC; e não consigo imaginar nenhum outro incentivo, exceto suborno ou chantagem — que às vezes aparecem em formas pouco óbvias e das quais espero que você não tenha sido vítima — para justificar e imitar as práticas deles neste momento. Você é um cara ótimo para falar sobre o valor de uma revista literária apartidária depois da maneira como vem propagando a maldita velha linha stalinista... às custas dos interesses da literatura e em detrimento dos padrões críticos em geral!
É por isso que Thurber protestava contra Malcolm Cowley, descrito de forma mais brutal por James T. Farrell como o "porta-voz literário" do Partido Comunista nos anos 1930; mas este não é o tipo de informação histórica que Nora Sayre considera relevante para seu relato progressista e romântico sobre Cowley nos anos 1930. Sayre também não se dá ao trabalho de apontar que foi somente cinquenta anos depois — na década de 1980! — que Cowley se dignou a reconhecer que poderia ter cometido alguns erros sobre a "Rússia" nos anos 1930, e mesmo nessa época tardia aproveitou a ocasião para reavivar sua antiga rixa com os anti-stalinistas da Partisan Review . Por sua política e suas ilusões, Cowley é claramente um dos modelos de Sayre.
Outra parece ser Lillian Hellman, pois há muito em Previous Convictions que se lê como um remake distendido de Scoundrel Time , com Donald Ogden Stewart e Ella Winter desempenhando os papéis originados por Dashiell Hammett e a própria Hellman — os papéis de vítimas românticas de perseguição política em vez de (o que de fato eram) apologistas privilegiados e prevaricadores de uma terrível tirania política. Como em Scoundrel Time , os escritores e intelectuais associados à Partisan Review and Commentary são vistos em Previous Convictions como maiores inimigos da democracia americana do que os seguidores do Partido Comunista, pois os primeiros são vistos como tendo falhado nos testes da ortodoxia progressista. Essa história de fantasia se repete na forma de farsa, mas há mais do que o suficiente em Previous Convictions para nos lembrar da farsa malévola que a própria mente progressista se revelou.
Notas
Vá para o topo do documento.
Convicções Anteriores: Uma Jornada pela Década de 1950 , por Nora Sayre; Rutgers University Press, 462 páginas, US$ 37,95. Voltar ao texto.
Veja, por exemplo, The Reader's Companion to American History , editado por Eric Foner e John A. Garraty e patrocinado pela Sociedade de Historiadores Americanos, publicado em 1991. O verbete "Progressivismo", escrito por Robert M. Crunden, não faz referência ao progressismo de orientação soviética de que falo aqui. Nesse contexto, deve-se notar também que, embora o livro contenha um verbete para "Anticomunismo", escrito por Ellen W. Schrecker, não há nenhum para "Comunismo", embora haja um breve verbete não assinado para o "Partido Comunista". Volte ao texto.
https://newcriterion.com/article/nora-sayre-a-progressive-journey/?utm_source=The+New+Criterion+Subscribers&utm_campaign=e437af9a2e-From+the+Archives%3A+Just+out+of+reach_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f42f7adca5-e437af9a2e-104769161