O Estado Profundo de Israel é pior que o da América
Para as elites de esquerda em Jerusalém e Washington, "salvar a democracia" significa governar por um judiciário e serviços de inteligência desonestos

Moshe Cohen-Eliya - 25 mar, 2025
A decisão do governo israelense de demitir o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, contra os avisos de seu procurador-geral, sem dúvida marca o ponto de inflexão mais perigoso até agora na crise constitucional de longa data de Israel. No domingo, o governo israelense aprovou por unanimidade um voto de desconfiança na própria procuradora-geral Gali Baharav-Miara, um primeiro passo para demiti-la. A Suprema Corte, que no ano passado derrubou uma emenda constitucional para reformar o sistema judicial israelense, agora interveio para bloquear a demissão de Bar — uma decisão que o governo diz que pretende desafiar. Então a questão não é mais se Israel tem um problema judicial. A questão é: quem realmente governa o país?
Observadores externos, particularmente no Ocidente, frequentemente descrevem a crise legal de Israel como uma tomada de poder por um governo radical de direita. A verdade é o oposto. Durante anos, autoridades não eleitas no judiciário, serviços de segurança e burocracia legal de Israel acumularam poderes extraordinários para anular tomadores de decisão eleitos. Israel se tornou a única democracia constitucional ocidental na qual os juízes têm poder de veto sobre nomeações judiciais, o procurador-geral controla a voz legal do governo e os chefes de inteligência agem como guardiões constitucionais. O resultado é uma crise de legitimidade — e um confronto crescente entre as instituições de soberania popular e o que só pode ser descrito como um estado profundo.
Em nenhum lugar esse confronto é mais agudo do que no relacionamento entre o judiciário de Israel e seu sistema de segurança.
O confronto sobre o Shin Bet não é simbólico — é existencial. Ele encapsula os vários elementos da elite que estão tentando paralisar o governo eleito. Bar chefiou uma agência responsável pela segurança interna que falhou miseravelmente em 7 de outubro de 2023. O primeiro-ministro perdeu a confiança nele há muito tempo, mas com Israel em guerra, Netanyahu se absteve de demitir figuras-chave da segurança como Bar e o então chefe de gabinete, tenente-general Herzi Halevi. Após o relatório do IDF sobre suas falhas em 7 de outubro, que saiu no final de fevereiro, Halevi renunciou. Bar não tinha intenção de fazer isso. O relatório do Shin Bet não apenas foi pateticamente autoexculpatório, mas também Bar o antecipou ao lançar uma investigação sobre os supostos laços financeiros dos assessores seniores do primeiro-ministro com o Catar. A manobra simultaneamente desviou as críticas ao fracasso do Shin Bet em 7 de outubro e permitiu que Bar alegasse que sua demissão foi manchada por um conflito de interesses e, assim, fosse incluída na campanha em andamento contra o governo.
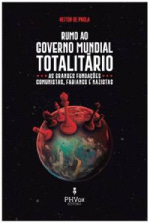
Entra em cena a Procuradora Geral Baharav-Miara.
A crise constitucional de Israel não é um debate legal. É uma luta por soberania.
O procurador-geral é tanto o conselheiro jurídico do governo quanto seu promotor-chefe, mas, na prática, a função funciona como um vice-rei legal — vinculando o governo às suas próprias interpretações da lei. Se o procurador-geral se recusar a defender uma decisão do governo perante a Suprema Corte, o governo não tem permissão para defendê-la de forma independente. Isso não é teoria — é prática.
No caso Bar, Baharav-Miara anunciou que não defenderá a decisão do governo, mas permitiu que o governo buscasse representação em outro lugar; em outros casos, ela negou qualquer representação do governo no tribunal. Sua própria demissão potencial quase certamente será contestada na Suprema Corte, assim como aconteceu com Bar. Nenhuma outra democracia investe esse tipo de autoridade irrestrita em um único funcionário não eleito.
Ironicamente, até mesmo a própria Suprema Corte de Israel considerou algumas das decisões do procurador-geral indefensáveis. Mas foi o próprio tribunal — liderado pelo Chefe de Justiça Aharon Barak — que conferiu esses poderes extraordinários ao procurador-geral em primeiro lugar. Em uma decisão histórica da década de 1990, Barak declarou que o governo deve obedecer às opiniões do procurador-geral — enquanto citava um relatório que dizia o oposto. O efeito líquido é que o procurador-geral, nomeado pelo governo anterior de esquerda, exerce mais poder sobre a política de Israel do que os atuais ministros eleitos.
A Suprema Corte emitiu uma ordem temporária suspendendo a decisão do governo contra Bar. Após a liminar, Baharav-Miara instruiu o Primeiro Ministro Netanyahu que ele não tem permissão para nomear um novo chefe do Shin Bet, entrevistar candidatos ou mesmo nomear um chefe temporário, aguardando a decisão final da Suprema Corte.
Mas a grande questão é: o que acontece se o tribunal invalidar a decisão do governo e o governo se recusar a cumpri-la? Quem decide então?
Essa questão leva ao que chamo de “teste de guarda-costas”. Imagine um cenário em que o procurador-geral declara o primeiro-ministro Netanyahu “incapacitado” devido ao seu julgamento de corrupção em andamento — algo que o tribunal sugeriu que pode fazer. Se Netanyahu chegar ao seu escritório e o procurador-geral o tiver declarado inapto para servir, o que seu guarda-costas fará?
Esse guarda-costas, é claro, vai escalar a questão até a cadeia de comando — eventualmente chegando ao chefe do Shin Bet. Naquele momento, não será a lei, a constituição ou o tribunal que determinará quem governa Israel. Será um oficial de segurança não eleito tomando uma decisão com base na lealdade.
É por isso que a batalha sobre a identidade do diretor do Shin Bet importa tão profundamente. Chefes de segurança podem, em última análise, determinar o resultado do impasse constitucional de Israel. Essa é a lógica — e o perigo — de um sistema no qual as alavancas da força não respondem a autoridades eleitas, mas a uma casta de elites irresponsáveis.
A disfunção constitucional de Israel não começou da noite para o dia. Enquanto a Declaração de Independência do país previa a adoção de uma constituição formal, David Ben-Gurion rejeitou a ideia, cauteloso com juízes anulando autoridades eleitas. Em vez disso, Ben-Gurion preferiu o modelo britânico de supremacia parlamentar. Em 1950, o Knesset optou por aprovar Leis Básicas incrementalmente, pretendendo compilá-las em uma constituição formal em uma data posterior. Esse momento nunca chegou.
Na década de 1990, sob a liderança do Chefe de Justiça Barak, a Suprema Corte israelense anulou precedentes judiciais anteriores e declarou que as Leis Básicas eram constitucionais por natureza. Sem uma constituição formal e sem verificações efetivas sobre os poderes judiciais, a corte se tornou uma superlegislatura híbrida.
A revolução judicial de Barak se desdobrou em três ondas. Na década de 1980, ele diluiu as regras vigentes, permitindo que ONGs levassem questões políticas ao tribunal, e decidiu que “tudo é justiciável”. Ele também descartou o rigoroso teste tradicional de Wednesbury de razoabilidade — usado em outros países de direito consuetudinário — em favor de um teste de “equilíbrio” que permitia que juízes substituíssem decisões executivas por suas próprias preferências sob o pretexto de revisão legal.
Na década de 1990, o tribunal transformou a Lei Básica: Dignidade Humana e Liberdade — originalmente um modesto compromisso entre liberais e conservadores em Israel — em uma quase-constituição abrangente. E em 2024, atingiu o ápice de seu poder ao anular uma emenda constitucional projetada para restringir o próprio alcance judicial. O tribunal israelense agora é único no mundo democrático em sua afirmação da autoridade para cancelar uma emenda constitucional, na ausência de quaisquer "cláusulas de eternidade" nas Leis Básicas de Israel.
As raízes reais desse desequilíbrio de poder são sociológicas tanto quanto legais. Desde a histórica vitória eleitoral de Menachem Begin em 1977, a elite secular tradicional Ashkenazi de Israel perdeu gradualmente seu domínio político. Em resposta, essa minoria liberal e globalmente conectada buscou consolidar sua influência por meio de instituições que continuou a controlar: os tribunais, a academia, o Banco de Israel e departamentos-chave dentro do serviço público.
O establishment de segurança, particularmente o Shin Bet (o equivalente israelense ao FBI) e o Estado-Maior das IDF, também se tornaram instrumentos desse bloco de poder não eleito. Repetidamente, governos eleitos foram frustrados não pela oposição parlamentar, mas por burocracias hostis e chefes de segurança dispostos a desafiar sua autoridade em bases ostensivamente legais ou profissionais. A ideia de que é vital para a democracia que o chefe do Shin Bet sirva como um freio ao primeiro-ministro ecoa o circo que a América experimentou durante o primeiro mandato do presidente Trump e é igualmente absurda. Mas é por isso que a elite abraçou Bar — precisamente porque ele dirige uma agência que opera com vasto poder extralegal.
Essas dinâmicas estavam em plena exibição esta semana, quando o diretor do Shin Bet e o procurador-geral se recusaram a comparecer a uma reunião de gabinete discutindo suas próprias demissões. Em vez disso, eles enviaram cartas desafiando a legitimidade do governo eleito. Seu desafio aberto marca um momento crucial: não estamos mais lidando com resistência burocrática interna, mas com uma rebelião institucional.
O judiciário também está ativamente intensificando o confronto. O presidente do Supremo Tribunal Yitzhak Amit — nomeado em desafio aberto ao governo atual — escolheu a dedo um painel judicial para decidir sobre a demissão de Ronen Bar. Uma pesquisa do professor Yair Givati mostra como os presidentes da Suprema Corte israelense há muito manipulam seu poder de formar painéis judiciais para produzir decisões desejadas. A decisão desta semana não parece diferente. O painel inclui dois de três juízes conhecidos por sua inclinação hiperativista. Em Israel, como diz o ditado agora, os juízes atiram a flecha — então desenham o alvo.
Enquanto isso, Baharav-Miara denunciou como “politização” um projeto de lei parlamentar que reformaria as nomeações judiciais ao exigir consenso entre a coalizão governamental e a oposição. No entanto, em praticamente todas as democracias constitucionais — incluindo os EUA — os juízes da Suprema Corte são nomeados por autoridades eleitas.
A crise constitucional de Israel não é um debate legal. É uma luta pela soberania. Um lado busca preservar um sistema no qual elites não eleitas em túnicas e uniformes ditam a política nacional. O outro lado, personificado pelo governo atual, está tentando restaurar a responsabilidade democrática.
O judiciário, encorajado por décadas de jurisprudência ativista, agora está resistindo abertamente a qualquer tentativa de reformar seu poder. Enquanto isso, agências de segurança, consultores jurídicos e burocratas do serviço público estão agindo em uníssono para bloquear a agenda do governo — mesmo ao custo de subverter as normas democráticas.
Esta não é mais apenas uma crise de Israel. Como Elon Musk alertou recentemente, a luta contra a classe burocrática não eleita — o que muitos agora chamam de estado profundo — é uma luta global. De Washington a Bruxelas e Jerusalém, governos eleitos estão sendo encurralados por elites entrincheiradas que usam a linguagem da lei, segurança e "profissionalismo" para minar mandatos democráticos. O que é necessário agora não é apenas uma reforma interna, mas a solidariedade internacional entre nações — e cidadãos — que valorizam o governo representativo em vez do governo de instituições irresponsáveis. A luta de Israel é a linha de frente de uma batalha mais ampla. É hora de aqueles que acreditam no autogoverno formarem alianças através de fronteiras, culturas e divisões políticas. A alternativa não é estabilidade — é o governo permanente daqueles que nunca foram escolhidos.




