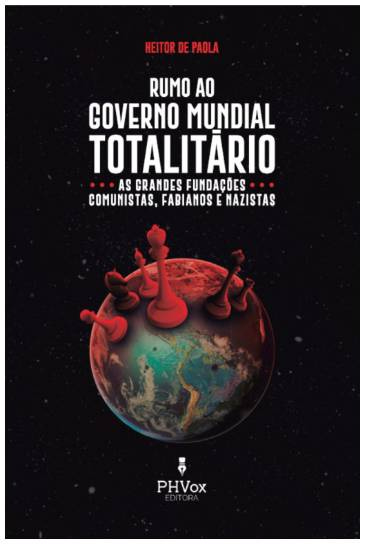O problema do campus não começou em 7 de outubro e não terminará este ano
Já vimos isso antes. Em maio de 2021, quando o Hamas lançou uma guerra de 11 dias contra Israel
Rachel O'Donoghue - 6 OUT, 2024
Os horrores de 7 de outubro desencadearam uma onda de antissemitismo que, para muitos de nós, infelizmente não foi surpreendente. Já vimos isso antes. Em maio de 2021, quando o Hamas lançou uma guerra de 11 dias contra Israel com um…
Os horrores de 7 de outubro desencadearam uma onda de antissemitismo que, para muitos de nós, infelizmente não foi surpreendente. Já vimos isso antes.
Em maio de 2021, quando o Hamas lançou uma guerra de 11 dias contra Israel com uma barragem implacável de mísseis, o ódio antijudaico ressurgiu rapidamente. Os críticos aproveitaram o conflito para difamar Israel , questionando seu direito à autodefesa. "Por que Israel deveria se defender?", eles gritaram. A disparidade nas capacidades militares era seu grito de guerra — como se Israel devesse voluntariamente permitir que seus cidadãos se tornassem alvos fáceis simplesmente porque defendê-los resultaria em um número desigual de mortos.
Sua lógica distorcida reformulou o próprio ato de sobrevivência de Israel como agressão. Para eles, o menor número de baixas israelenses não era um sinal de proteção bem-sucedida, mas evidência de uma falha moral.
A primeira onda de protestos em campi universitários — ostensivamente em apoio aos palestinos — ocorreu poucos dias após 7 de outubro. Mesmo enquanto os corpos das vítimas do massacre ainda estavam sendo recuperados e identificados, e enquanto ainda não estava claro quem havia sido morto ou sequestrado em Gaza, estudantes americanos já estavam se reunindo nos gramados dos campi , gritando slogans como "Palestina livre, livre", "Palestina está aqui e orgulhosa" e o infame "Do rio ao mar".
Os protestos anti-Israel nos campi rapidamente mudaram nos dias e semanas seguintes a 7 de outubro. O que começou como protestos liderados por grupos conhecidos como Estudantes pela Justiça na Palestina e a ironicamente chamada Voz Judaica pela Paz logo se transformou em um apoio mais amplo da população estudantil em geral.
Essa escalada foi possibilitada pela alarmante inação do corpo docente e da liderança da faculdade, que ficaram parados enquanto multidões de estudantes tomavam posse de quadras de campus para criar as chamadas zonas “livres de sionistas”. Esses acampamentos improvisados, eles proclamaram, permaneceriam até que as administrações universitárias cedessem às suas demandas nebulosas de “desinvestimento” de empresas com conexões tênues, se houver, com Israel.
No entanto, esses protestos estudantis e as demonstrações horríveis de antissemitismo que eles demonstraram trouxeram à tona uma questão antiga sobre a qual o HonestReporting e outros vêm alertando há anos: o antissemitismo generalizado nos campi universitários.
Durante anos, os esforços de Israel para se defender de terroristas que buscam sua aniquilação foram aproveitados por ativistas universitários, ansiosos para usá-los como pretexto para o antissemitismo.
Durante a guerra do Líbano de 2006, os campi universitários dos EUA viram um aumento nos incidentes antissemitas. Um briefing de 2005 da Comissão de Direitos Civis dos EUA já havia soado o alarme sobre como as críticas a Israel frequentemente cruzavam a linha para o antissemitismo flagrante. Os suspeitos de sempre foram nomeados: Universidade de Columbia , Universidade da Califórnia em Irvine, UC Berkeley , Northwestern e outros. As cenas que se desenrolaram nesses campi espelharam os incidentes abomináveis que testemunhamos no ano passado: memoriais do Holocausto construídos por estudantes foram profanados, suásticas foram esculpidas em mesas destinadas a velas memoriais do Holocausto e palestrantes antissemitas apareceram nos pódios do campus para se dirigir a multidões de jovens impressionáveis de 18 anos, promovendo retórica odiosa como a "teoria do biscoito judeu" e alertando-os para serem cautelosos com judeus "arrogantes".
Houve o tijolo atirado nas janelas do edifício Hillel durante a Páscoa, estudantes judeus visivelmente ortodoxos atacados e estudantes judeus recitando o Kaddish em um memorial do Holocausto abafados por seus colegas elogiando os homens-bomba palestinos. Em outro incidente vil, uma suástica de três pés foi rabiscada ao lado da frase "Morram, judeus" em uma parede do campus.
🗣️ Estudantes universitários judeus compartilham suas experiências em campi nos EUA.
Um tópico importante🧵 pic.twitter.com/6NooG0XFXm
— HonestReporting (@HonestReporting) 27 de maio de 2024
Como a mídia se tornou co-conspiradora no campus
Um relatório divulgado este mês pela ADL expõe o estado preocupante dos campi americanos no último ano, documentando um aumento de 477% em incidentes anti-Israel. Esses incidentes incluíram a promoção de tropos antissemitas clássicos, como referências à riqueza e ao controle judaicos, bem como expressões abertas de apoio a organizações terroristas como Hamas e Hezbollah.
Centros estudantis judeus como Hillel e Chabad foram frequentemente alvos, com pelo menos 73 incidentes impactando diretamente essas organizações, incluindo apelos para que as universidades cortassem laços com elas. Protestos do lado de fora de seus prédios e eventos interromperam a vida judaica em vários campi.
Quando os administradores universitários finalmente tomaram medidas após meses de interrupções — estimulados tanto por seus desastrosos depoimentos no Congresso quanto por ameaças de doadores de alto perfil de retirar doações pesadas — os presidentes das universidades começaram a cair em suas espadas e renunciar. Entre os que renunciaram estavam Liz Magill, da Penn, e Claudine Gay, de Harvard. Alguns sentiram um lampejo de esperança, acreditando que isso poderia sinalizar um reconhecimento mais amplo do problema — que as instituições estavam finalmente acordando para o que os estudantes judeus têm expressado há anos.
Muito mais fácil para o subtítulo do @thetimes culpar “estudantes e benfeitores judeus” pela renúncia de Liz Magill do que sua própria performance desastrosa e moralmente falida diante do Congresso. https://t.co/QyN1jrXGgU pic.twitter.com/jWv688M89E
— HonestReporting (@HonestReporting) 10 de dezembro de 2023
Mas essa esperança é equivocada. Na verdade, os campi universitários são apenas um microcosmo de um problema maior, onde o antissemitismo é generalizado e Israel é exclusivamente vilipendiado. Essa questão não se limita à academia — geralmente começa com os jornalistas que cobrem esses conflitos, moldando a narrativa pública.
A ironia é que a cobertura da mídia sobre os protestos estudantis demonstrou perfeitamente seu próprio preconceito anti-Israel. À medida que vídeos inundavam on-line — mostrando estudantes judeus sendo assediados e cânticos pró-terror ecoando pelos gramados bem cuidados das instituições de elite dos Estados Unidos — a evidência era clara para milhões de pessoas verem. No entanto, grande parte da mídia internacional minimizou ou desculpou os protestos, reforçando o próprio problema que eles deveriam relatar. Mesmo quando reconheciam os incidentes, a cobertura era frequentemente desdenhosa, minimizando a gravidade do antissemitismo em exibição.
Leia mais: Cobertura da audiência sobre antissemitismo no campus expõe ponto cego da mídia
Em meio à sua cobertura geralmente favorável aos protestos estudantis, o The New York Times enviou um jornalista para registrar um “ despacho de dentro do protesto liderado por estudantes da Columbia ” — a mesma faculdade que mais tarde demitiu professores por postagens antissemitas. Foi impressionante que, embora o repórter pudesse entrar livremente no protesto e escrever sobre ele, qualquer estudante chamado “sionista” que tentasse fazer o mesmo enfrentaria hostilidade e exclusão imediatas.
No primeiro parágrafo do artigo, o jornalista convenientemente testemunha um momento que supostamente prova que as manifestações no campus de Columbia não foram antissemitas no todo. Do outro lado da rua da universidade, um homem — claramente não um estudante — com uma grande cruz de ouro em volta do pescoço, está acenando uma bandeira israelense ensanguentada e gritando: "Os judeus controlam o mundo! Judeus são assassinos!" Como se estivesse na deixa, um estudante "pró-palestino" calmamente se aproxima e diz a ele: "Isso é terrivelmente antissemita. Você está prejudicando o movimento e não faz parte de nós. Vá embora." O homem obedece e vai embora.
O The Guardian publicou um “ guia em vídeo para o movimento de protesto ”, completo com mapas e infográficos, informando os leitores que a “guerra em Gaza [havia] desencadeado a maior onda de ativismo estudantil dos EUA desde os protestos antirracismo de 2020”. Lá estava, na primeira frase — a visão do The Guardian era inconfundível: os protestos anti-Israel eram moralmente equivalentes a manifestações antirracismo. Estudantes gritando que “ porcos sionistas não merecem viver ” estavam, aos olhos do veículo, imbuídos de um senso de retidão. O selo de aprovação do jornal, completo com um guia para outros se juntarem, efetivamente encorajou mais estudantes a intimidar seus colegas judeus.
Enquanto isso, uma matéria brilhante no The New Yorker saudou os protestos como uma “revolta nacional de estudantes para acabar com a guerra em Gaza e, para alguns, para acabar com os laços financeiros de sua instituição com Israel”. Mas essa dificilmente foi a extensão total de suas demandas. Alguns manifestantes universitários foram ainda mais longe do que o movimento oficial do BDS, pedindo que sionistas e israelenses individuais fossem banidos dos campi — uma postura que, de acordo com a ADL, rompe com as diretrizes da USACBI, que defendem especificamente “o boicote de instituições israelenses, não de indivíduos” e “[rejeita] por princípio boicotes de indivíduos com base em sua identidade ou opinião”.
Durante meses, a narrativa da mídia foi inabalável: os estudantes, guiados por suas bússolas morais incontestáveis, estavam do lado da retidão. Mesmo quando os protestos se desviaram inequivocamente para o antissemitismo, fomos tranquilizados de que esses eram apenas incidentes isolados — apenas algumas "maçãs podres".
A sabedoria predominante, como The New Yorker tão confiantemente afirmou, era que as crianças não estavam bem — mas apenas porque elas não estavam sendo ouvidas. Mesmo quando as universidades, após muita demora, foram finalmente forçadas a agir — desmantelando acampamentos, suspendendo alunos e emitindo ações disciplinares há muito atrasadas — a mídia de alguma forma continuou a se unir em torno de uma causa que rapidamente se tornou indefensável.
E agora, aqui estamos, com um novo ano acadêmico apenas começando.
Repercussões e lições aprendidas?
No entanto, apesar da pausa nos protestos e das renúncias de lideranças, a realidade é que provavelmente veremos uma repetição das cenas do ano passado — se não na guerra atual contra o Hamas, certamente na próxima vez que Israel aparecer nas manchetes.
Por quê? As respostas inadequadas e tardias das universidades só serviram para encorajar os manifestantes. É essa hesitação, juntamente com palavras de aprovação da liderança universitária nos estágios iniciais, que permitiu que as manifestações persistissem por tanto tempo. Na verdade, algumas das principais figuras por trás dos protestos foram até recompensadas por suas instituições.
Por exemplo, o estudante da Universidade de Columbia que notoriamente exigiu “ajuda humanitária” e “um copo de água” para os manifestantes — alegando que eles “morreriam de desidratação e fome” sem o apoio da administração — agora leciona uma aula obrigatória de graduação. Na mesma instituição, o professor Joseph Massad , que elogiou abertamente o Hamas, ainda mantém sua posição ensinando estudos do Oriente Médio, sem enfrentar consequências. Da mesma forma, em Cornell, o professor que descreveu os ataques do Hamas de 7 de outubro como “estimulantes” permanece impune e continua ensinando.
Segundo, e talvez mais preocupante, é o fato de que muitos em posições de autoridade nessas instituições acadêmicas não veem necessidade de punição — em grande parte porque se alinham com os sentimentos mais amplos expressos. A normalização da retórica anti-Israel chegou a um ponto em que até mesmo os apelos pela morte de "sionistas" são ignorados como uma escolha ruim de palavras ou um excesso de paixão, enquanto a ideologia subjacente é tacitamente aceita.
É difícil imaginar visões tão grotescas sendo direcionadas aos cidadãos de qualquer outra nação, muito menos recebidas com a mesma indiferença ou racionalização.
No cerne desta questão está a mídia. Na Europa, a imprensa tem sido tradicionalmente considerada o “quarto poder” — distinto do clero, nobreza e plebeus — reconhecendo seu papel poderoso em responsabilizar outros estados e moldar o entendimento público. No entanto, quando se trata do conflito Israel-Palestina e da onda de antissemitismo, a mídia abdicou desse papel crucial. Onde antes buscava expor, examinar e desafiar, agora vacila. Cada vez mais, os jornalistas se posicionam não como fornecedores imparciais da verdade, mas como ativistas, encorajados por empregadores que sancionam tal partidarismo.
Se uma reforma significativa deve criar raízes nas faculdades americanas, ela deve começar com um compromisso renovado da mídia. Jornalistas devem reivindicar seu papel como árbitros objetivos, submetendo questões a um escrutínio rigoroso em vez de alinhamento ideológico. O caminho a seguir requer um retorno ao dever fundamental de sua profissão: iluminar a verdade, sem medo ou favor.